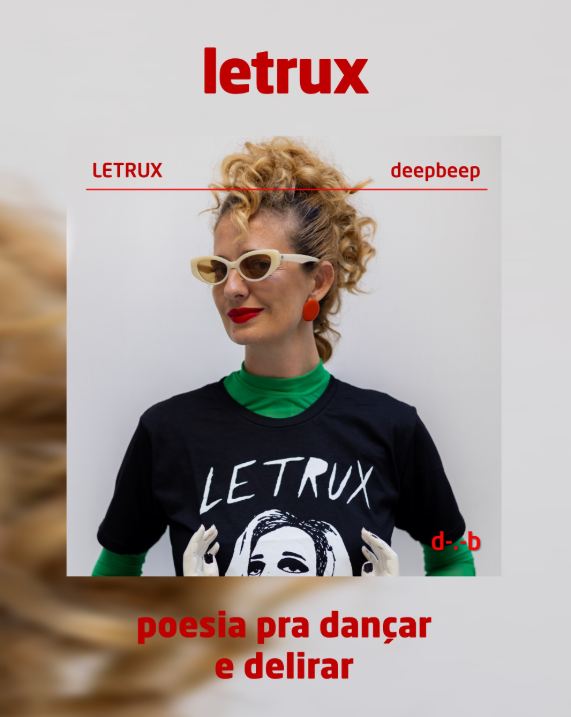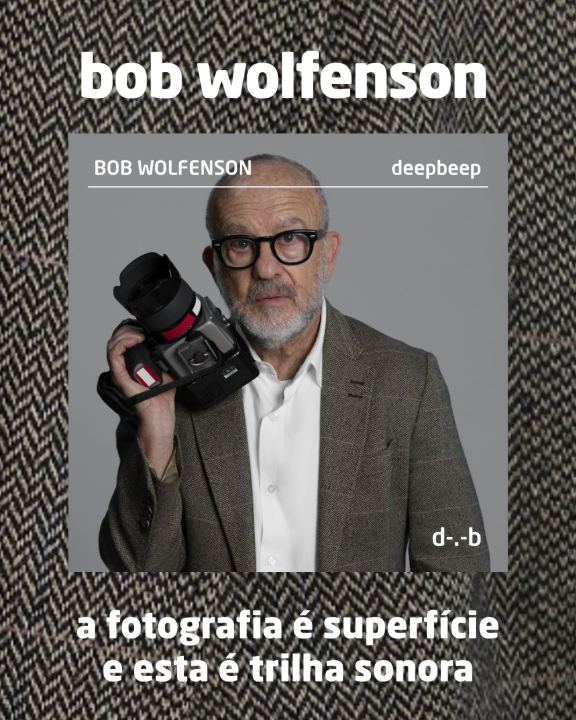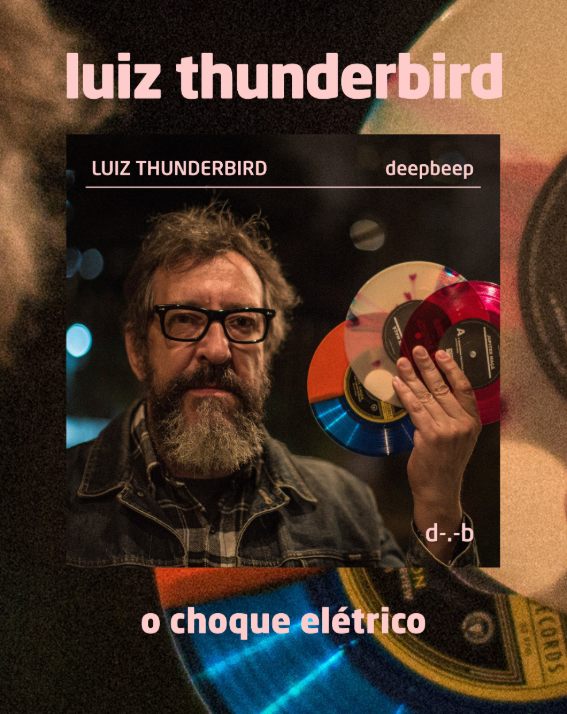GG Albuquerque mapeia os sons que as plataformas ignoram para revelar como a música eletrônica da periferia global é uma poderosa ferramenta política.
GG Albuquerque é um cartógrafo de sons e ideias. Como jornalista e pesquisador, ele mergulha nas cenas eletrônicas africanas e afrodiaspóricas não apenas para mapear ritmos, mas também para investigar como a música inventa futuros e desafia o presente. Em seu trabalho, o kuduro angolano ou a batida do gueto de Lisboa se revelam como complexas ferramentas de identidade e política. Ele nos mostra que, para além da pista, a música é um espaço onde se disputa narrativas e se constrói um senso de pertencimento, longe dos centros de poder da indústria cultural. E é nesse vasto e pulsante universo sonoro que o convidamos a compartilhar uma playlist introdutória aos ‘Afrotrônicos’ e outras eletrônicas diaspóricas que o movem. Mergulhe nos sons que mapeiam o futuro da música eletrônica global com GG Albuquerque: dê o play!
Lísias Paiva, editor-fundador
GG, seu trabalho como jornalista e pesquisador mergulha fundo nas cenas musicais, especialmente nas eletrônicas africanas e diaspóricas. Como essa imersão sonora alimenta sua escrita e sua visão sobre a cultura contemporânea?
Minha pesquisa tem dois interesses principais. O primeiro são os procedimentos e os métodos criativos dos artistas. Como eles criam aquelas músicas? Como chegam àquela sonoridade específica e por que perseguem esse determinado som? Como manipulam as tecnologias e como elas modulam seu trabalho? Essas metodologias revelam uma forma de pensamento artístico que muda nossa escuta — e, no caso de músicas periferizadas, mostram a inteligência criativa de músicos que não são muito reconhecidos. Outro lado que me atrai é pensar a música como um meio para inventar e nos fazer experimentar aquilo que ainda não sabemos nomear ou sequer imaginamos que existe. É o espaço da dúvida, do risco, do improvável, que foge dos limites estáveis do conhecido.
O curso “Afrotrônicos” destaca um universo sonoro rico e muitas vezes fora do radar mainstream. Que conexões, narrativas ou mesmo “reparações históricas” você acha que essas sonoridades eletrônicas africanas e diaspóricas trazem para o cenário global da música, desafiando ou complementando as cenas mais conhecidas?
Acredito que a música eletrônica africana e afrodiaspórica oferece quase um “reset” dos pilares da música eletrônica ocidental. Do ponto de vista histórico, encontramos a obra do egípcio Halim El-Dabh, um pioneiro da música eletroacústica e da técnica de colagem (que depois se transformaria no sampling, base de tantas correntes da música pop atual). Portanto, antes da Europa, artistas do continente africano faziam música eletrônica.
El-Dabh antecipou o francês Pierre Schaeffer em alguns anos e, mais importante, explorou caminhos muito singulares ao combinar a eletroacústica e a eletrônica com gravações de rituais e cerimônias tradicionais de seu país. Além disso, essas musicalidades afro possuem uma sensibilidade distinta. Por exemplo: as batidas repetitivas foram um elemento característico da música eletrônica de pista no Ocidente.
Quando o parlamento britânico persegue as raves nos anos 1990, eles definem essas festas como um local onde “se executa música total ou predominantemente caracterizada pela emissão de uma sucessão de batidas repetitivas”. Esse padrão histórico e a rigidez do compasso 4×4 vão sendo quebrados por movimentos como o drum and bass, focados no sincopado do breakbeat. E cenas mais recentes, como o singeli da Tanzânia, vão dinamitar o “bate-estaca” com uma sensibilidade polirrítmica arrasadora. Isso é um movimento muito profundo, porque está ligado à própria concepção de ritmo dos povos africanos e de suas culturas, que entendem o ritmo para além de um aspecto simplesmente musical — o ritmo faz parte da vida como um todo, de um modo de perceber o mundo. É outra sensibilidade, mesmo.
Como jornalista e pesquisador musical, como você observa o papel das plataformas de streaming e das mídias digitais?
Plataformas de streaming e mídias digitais não são um problema ou obstáculo por si sós. O problema surge quando essas instâncias se transformam em uma versão atualizada da indústria fonográfica, que historicamente não está sintonizada com aquilo que há de mais novo e radical na música africana e, no caso brasileiro, tende a eleger artistas mais palatáveis dentre os circuitos de música negra. Por outro lado, sem as mídias digitais, eu não teria acesso à maioria das músicas que estudo. Para quem tem interesse e curiosidade, sempre há brechas para ir além.
Para além da pista de dança, de que outras formas a música eletrônica, especialmente a de matriz africana e diaspórica, funciona como ferramenta de expressão cultural, construção de identidade, conexão comunitária ou até mesmo como um espaço de ativismo e ressignificação?
Cada caso possui particularidades. As cenas de música eletrônica africanas e diaspóricas que estudo estão ligadas às periferias ou guetos. Em certos casos, essas musicalidades criam uma nova imagem do país na contramão dos ideais oficiais. Em Angola, o kuduro dos musseques (as “favelas”) construiu, no início dos anos 2000, um novo senso de “angolanidade”, que se opunha a gêneros mais antigos como o semba e refletia os anseios de uma geração que estava saindo de uma guerra civil de quase 30 anos. Nagrelha, MC do grupo Os Lambas, era reconhecido pelos fãs como “Estado-Maior do kuduro”. Era como se o kuduro fosse a legítima representação de Angola, à frente até de seus políticos.
Curiosamente, o kuduro depois seria uma das principais influências da batida do gueto, uma cena surgida nas comunidades de imigrantes africanos em Lisboa que combinou essas sonoridades afro com techno, house e outras vertentes da eletrônica de pista ocidental. Você vai ter muitas músicas com samples de instrumentos locais como o dikanza, por exemplo. Essa música acabou por expressar uma identidade ambivalente — portuguesa, mas também angolana, cabo-verdiana, moçambicana; um entrelugar entre África e Europa. Isso num contexto em que o Estado busca apagar a presença dos imigrantes e silenciar as pautas raciais. Para ter uma ideia, somente em 2023 o censo português incluiu perguntas sobre identidade racial — e sem dados. Sem fazer coro a nenhuma ideia de democracia racial (ou de lusotropicalismo, que foi como as elites portuguesas traduziram e usaram politicamente os conceitos de Gilberto Freyre), a batida do gueto expressa essa dupla identidade cultural da migração, mas também reivindica espaço na própria identidade portuguesa.
Sua pesquisa envolve um garimpo musical constante. Como é seu processo para descobrir novos artistas, selos e cenas dentro desse universo afrotrônico e de outras vertentes que te interessam?
Não tenho nada muito sistemático nem diferente. Acompanho os selos que estão dedicados a essas músicas, saio vasculhando os vídeos relacionados no YouTube, entrevistando os músicos e ouvindo aquilo que eles recomendam e citam como influências, vasculho páginas de Instagram ligadas às cenas, passo pelos livros e converso com outros amigos pesquisadores.
Fotos: Marlon Diego
Acompanhe o trabalho de GG Albuquerque:
GG Albuquerque no Instagram
O Volume Morto por GG Albuquerque
.
.
Aqui no deepbeep, cada entrevista vira uma playlist. Cada playlist, um jeito novo de ouvir.
E nossa curadoria não para por aqui: toda semana, enviamos novidades direto no seu e-mail.
Quer receber também? Assine a newsletter, o formulário está no rodapé.