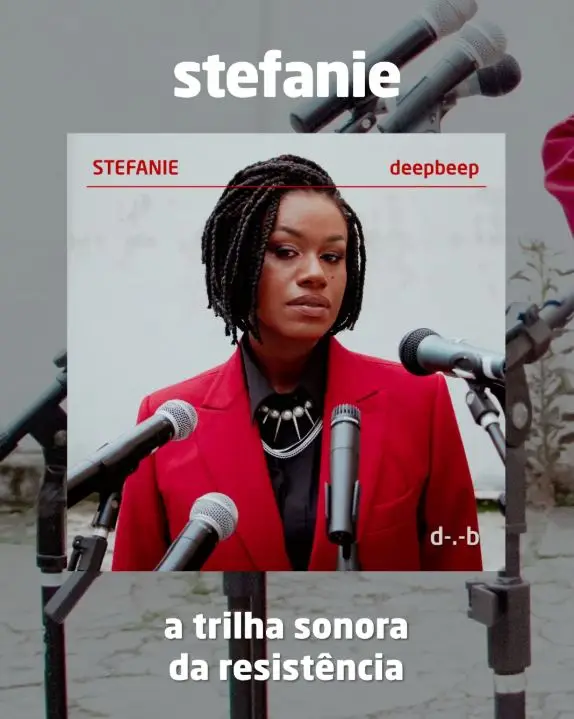A coragem de ter um olhar próprio. Joice Berth sobre autoconhecimento, música como afeto e a recusa do senso comum.
Joice Berth é uma pensadora que recusa o senso comum. Urbanista, psicanalista, curadora e, como ela mesma se define, ‘dorameira’, ela transita por múltiplos universos para entender o poder. Autora de obras essenciais como ‘Empoderamento’ (2018) e ‘Se a cidade fosse nossa’ (2023), seu trabalho é um convite para pensar por conta própria. Um processo de autonomia holística que questiona nossa necessidade de pertencer a manadas. Com um olhar que ignora algoritmos, ela investiga como a cultura e a música moldam nossos afetos. Convidamos a Joice para uma conversa sobre esse processo, criatividade e a utopia de um despertar coletivo. Nossa provocação foi a ‘Playlist do Filtro Afiado’. A seleção está logo abaixo. A conversa completa vem a seguir.
Lísias Paiva, curador e fundador
Em seus livros, você discute o conceito de empoderamento de forma muito crítica e aprofundada. Para além do discurso muitas vezes esvaziado, o que significa, na prática, construir uma real autonomia intelectual e criativa hoje?
Significa construir uma autonomia no sentido holístico, uma autonomia total e real. Muita gente se pensa autônoma, de ideias livres, mas a verdade é que temos uma vontade genuinamente humana de pertencer. Essa vontade pode nos tornar influenciáveis, justamente porque quase todos querem pertencer. Em nome desse pertencimento, negligenciamos e ajustamos muita coisa em nós para caber no espaço pleiteado. E geralmente o intelecto e a afetividade são os que mais sofrem com essa demanda invisível e silenciosa. Daí a criatividade fica travada, empobrecida. A criatividade está intimamente ligada ao autoconhecimento, que te dá a dimensão exata dos seus limites e te “obriga” a trabalhar para superar ou lidar com as limitações, sobretudo aceitá-las. Mas nossas limitações, em um mundo onde pertencer está intimamente conectado com ideais de perfeição, nos induzem à não aceitação das limitações inerentes ao humano que nos constitui. Você precisa realmente aprender sobre você, sobre como você funciona e como o mundo reage ao seu funcionamento a partir das próprias inconstâncias e equívocos que a sociedade cultiva. E esse é o começo da construção de uma autonomia real e holística que te permite expandir, partindo da honestidade consigo mesmo. É o despertar da autonomia holística que alimenta a autonomia intelectual, que por sua vez está apta a alimentar de maneira saudável a criatividade. Mas esse despertar só acontece quando você aprende a fazer escolhas próprias, sem se moldar às manadas ou às bolhas sociais e seus códigos intelectuais pré-estabelecidos, e que atendem aos intentos de um poder que só se sustenta a partir da alienação dos demais.
Você analisa a moda e a arquitetura como linguagens que refletem e moldam relações de poder. Como a música, na sua visão, também participa dessa dinâmica? De que forma ela pode ser usada tanto para reforçar estruturas quanto para criar espaços de insurgência?
Como falei anteriormente, o intelecto e a afetividade são muito demandados em todos os processos de alienação ou de deformação do nosso EU para caber nos espaços que pleiteamos. A música é a arte que mais influencia e é influenciada pela afetividade. Os profissionais da música, mesmo que nem sempre estejam conscientes disso, têm no sentir sua matéria-prima, antes mesmo de começar a produzir sonoridades. É essa matéria-prima que capta o afeto de quem ouve o que é produzido. E é um diálogo “silencioso”, ou aquilo que ninguém vê sobre a música, mas sabe intuitivamente. Tudo o que nos chega pelos caminhos da afetividade, do sentimento, da identificação silenciosa, tende a ser mais profundo e desarmar nossas resistências. Isso está por trás do soft power cultural coreano, por exemplo. E de outros que já vieram ou virão. Então, precisamos saber que há intenções sociopolíticas por trás da produção da música e que ela precisa, sim, ser questionada, se não em escala social, ao menos na escala individual. Nosso EU social precisa começar a se questionar se o que ouvimos é porque gostamos ou porque nos ensinaram a gostar, questionar quais são os diálogos ocultos e os discursos que deslizam pelas entrelinhas do que entra pelos nossos ouvidos e vai direto aos nossos afetos. Assim podemos usar a música como instrumento de conscientização ou descartá-la como tecnologia de alienação e deformação da nossa subjetividade.
Seu trabalho exige um olhar afiado para decodificar os sinais da sociedade. Em um mundo saturado de informações e opiniões rasas, como funciona o seu “filtro”? Como você separa o ruído do que é realmente um sintoma importante do nosso tempo?
Eu sou grata ao meu poder de análise. Aprendi a respeitar essa minha característica que sempre foi nomeada de “chatice” nos meus meios de convivência. Mas justamente essa chatice já beneficiou muita gente, inclusive a mim mesma, em muitos momentos. E as pessoas, hoje em dia, confiam muito no meu olhar e no meu senso crítico, que é fruto da maneira séria com que eu olho para a vida, e o mais impessoal e aberto possível. Nunca me foi permitido errar, desde pequena, não apenas por eu ser uma mulher e negra, mas pelo meu próprio meio familiar. Fui criada de maneira muito rigorosa e com pouco espaço para as falhas, mesmo na infância. E eu realmente acredito que isso me fez bem. Ao mesmo tempo, eu busco ser uma pessoa justa, honesta com os outros e comigo mesma. Talvez sejam essas características que moldaram o meu “filtro”. Prezo pela impessoalidade e tento me manter neutra para avaliar as coisas de maneira justa. Eu busco o cerne das coisas, das pessoas e das situações para poder entender o que as move e evito me colocar nesse cerne ou tornar tudo como algo sobre mim e minhas motivações. Evito a vaidade. Os ruídos e as opiniões rasas vêm da vaidade que direciona o olhar apenas para o que é compatível com as crenças e preferências individuais. Eu vou sempre por outro caminho. Não importa se eu gosto ou não de sertanejo, eu tenho que conhecer, entender, sentir o que vem do cerne desse estilo de música e de tudo que orbita no entorno dela, para poder separar o joio do trigo, ou o que é de qualidade e o que não é. Daí entra a minúcia, o foco nos detalhes não óbvios, naquilo que ninguém dá a mínima. Aí é que reside muita coisa, como bem aprendi com o incrível Paulo Leminski quando ele escreveu: “repare bem no que eu não digo”.
Você transita entre a escrita de livros, colunas e a comunicação nas redes. Como o seu processo de pensamento se adapta a cada uma dessas plataformas? A urgência das redes sociais interfere na profundidade da sua reflexão, ou você a usa como um laboratório de ideias?
Não consigo colocar as coisas em caixinhas separadas e previamente definidas. Quem me acompanha sabe, por exemplo, que ignoro o algoritmo. Não sou e nunca me considerei uma influenciadora. No máximo, em alguns momentos, uma criadora de conteúdo. Mas na verdade, sou escritora, arquiteta, psicanalista, curadora e pensadora do tempo em que vivo. Então, o algoritmo não atende ao ritmo da minha inteligência prática, dos meus interesses, e eu não estou disposta a me deixar poluir por ele. Então, o que eu escrevo é o que eu penso, sinto, pesquiso e em que me aprofundo. Dificilmente o algoritmo vai se interessar pelo que eu me interesso, porque o senso comum não produz nada de bom, e eu o rejeito também. E tem a questão racial, é fato que o racismo está pautando os algoritmos. Então uma mulher negra de meia-idade que não vai performar militâncias que se tornaram normativas não vai ter a ajuda do algoritmo e nem o interesse do público que busca uma manada para se sentir pertencente. Eu nunca vou ter a visibilidade do Felca (e isso não é uma crítica a ele, e sim ao que ele representa para esse sistema). Sendo assim, a urgência das redes passa longe do meu ritmo e dos meus interesses, até para proteger minha saúde mental, que eu tanto prezo. O que acho bom nesse momento me favorece, porque é essa urgência que produz opiniões rasas, repetitivas, pouco produtivas. Tem momentos em que está todo mundo falando da mesma coisa e, parafraseando Lacan, não é porque todo mundo fala que todo mundo diz algo. Mas as redes funcionam, sim, como um modo de me manter em contato com coisas muito bacanas, com pessoas que não estão ao alcance, mas que merecem atenção porque são pontos de luz na escuridão da alienação coletiva.
Olhando para o futuro, qual é a utopia que te move? Qual é a transformação mais radical e necessária que você acredita que precisamos buscar como sociedade para construir um futuro mais justo e potente?
A utopia do despertar coletivo é o que me move. Penso que é possível que as pessoas ao redor do mundo despertem do transe sociopolítico que planta e cultiva a ilusão de que estamos separados, de que há uma hierarquia onde uns valem mais do que os outros e de que há uma base que nasceu para sustentar e se submeter a uma centralidade criada pelo humano. Hoje em dia eu quero trabalhar para que as pessoas entendam que somos parte de um Todo e que, dentro das nossas limitações e expertises, podemos contribuir muito para um outro tipo de sociedade, mais limpa, mais justa, mais equilibrada e feliz. Pessoas são valiosas e, quanto mais rápido entendermos isso, mais teremos chance de vencer nossos desafios coletivos, apostando na somatória de talentos e forças individuais.
Acompanhe o trabalho de Joice Berth
Joice Berth no Instagram
Joice Berth no Substack
Livro “Empoderamento” de Joice Berth na Amazon
Livro “Se a cidade fosse nossa” por Joice Berth na Amazon
Ouça a playlist da Joice Berth na Deezer, Apple Music e Amazon Music
Aqui no deepbeep, cada entrevista vira uma playlist. Cada playlist, um jeito novo de ouvir.
E nossa curadoria não para por aqui: toda semana, enviamos novidades direto no seu e-mail.
Quer receber também? Assine a newsletter, o formulário está no rodapé.